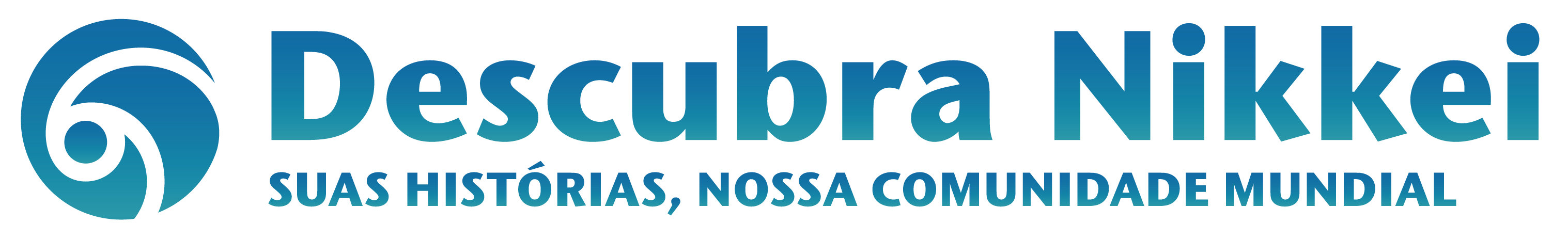Em março de 2011, fazia apenas um mês que havia começado a trabalhar em uma editora especializada em cultura japonesa. Meu trabalho era cuidar de um site cujo conteúdo era relacionado a esse tema.
Naquele dia 11 de março, logo pela manhã do Brasil, ouvi pelo rádio que havia acontecido um forte terremoto no Japão. Apesar de terremotos acontecerem regularmente no país, pelo tom das notícias, era possível perceber que havia sido muito mais grave.
Fui até a editora acompanhando as notícias pelo celular. As estimativas do número de mortos e de danos materiais só aumentavam. Quando finalmente assisti às imagens do tsunami avançando sobre casas e plantações, fiquei atordoado por alguns momentos.
O conteúdo do site em que eu trabalhava era composto principalmente por “material frio”, ou seja, textos atemporais (sobretudo curiosidades históricas e culturais). A cobertura do Grande Terremoto do Leste do Japão passou a ocupar todos os espaços de destaque no site.
As primeiras horas de trabalho daquela sexta-feira foram ocupadas com o contato com jornalistas no Japão que pudessem nos esclarecer a situação. Não conseguimos naquele momento.
À tarde, tive que ir fazer cobertura de um evento de tecnologia, no qual estavam presentes representantes de empresas japonesas. Todos expressaram preocupação com seus colegas da matriz.
Na volta à editora, continuei a procura por contatos que pudessem falar sobre a situação. Nos primeiros dias, a dificuldade de comunicação era a principal preocupação entre os nikkeis.
Na época, eu tinha amigos e parentes morando em outras regiões do Japão. Uma amiga em Saitama me contou sobre circulação de trens interrompida e alguma dificuldade com falta de energia elétrica. Amigos na região de Kansai afirmaram que a rotina estava mais próximo do normal. Consegui conversar com dois jornalistas e uma estudante de intercâmbio, que me ajudaram a produzir alguns textos para o site.
Nos dias seguintes, começaram a vir as notícias de evacuação e contaminação radioativa, além de mais imagens de destruição nas áreas atingidas pelo tsunami. A reação de muitas famílias no Brasil foi recomendar a volta de parentes que estavam no Japão. Essa situação até criou o termo “flyjin”, para se referir às pessoas que decidiram sair do país.
Entidades nipo-brasileiras organizaram campanhas de arrecadação de dinheiro. Muito baseadas na boa vontade, decidiu-se que as doações seriam encaminhadas para a Cruz Vermelha e para a Embaixada do Japão no Brasil. Ao mesmo tempo, soube de campanhas de brasileiros residentes do Japão que enviaram mantimentos para a região de Tohoku.
Nas redes sociais, as pessoas compartilharam mensagens de apoio, como as da campanha “Pray for Japan”. Meu receio era que golpistas aproveitassem a situação para tirar dinheiro em meio à comoção. Felizmente, não soube de nenhum caso desse tipo no Brasil.
Nas semanas seguintes, a maior parte das notícias veiculadas no Brasil concentrou-se na questão da radiação. Começamos a ler e ouvir sobre conceitos como microsievert, meia-vida, isótopos radioativos.
Houve grande desconfiança em relação aos produtos alimentícios importados do Japão. Restaurantes ficaram sem suprimentos, enquanto nas lojas, similares chineses e coreanos passaram a ocupar as prateleiras. Hoje, a situação está mais próxima da normalidade, ainda que a importação continua enfrentando dificuldades, mas por motivos diferentes.
Lembro que pensei que o país já havia passado por duas bombas nucleares; logo superaria essa crise também. Imaginei e torci para que eu logo pudesse publicar alguma notícia a respeito da recuperação.

Elas vieram na forma como os desabrigados se organizavam para receber mantimentos. As imagens que chegaram às TVs brasileiras mostravam as pessoas em fila, sem bagunça, sem ninguém tentando passar na frente, em silêncio. Esse tipo de comportamento costuma causar espanto e admiração no Brasil.
Em maio, a notícia da abertura de uma loja de conveniência improvisada em Minami Sanriku, na província de Miyagi, teve destaque. Na editora onde trabalhava, o texto sobre o “aozora konbini” foi afixado no mural de avisos como forma de inspiração para nós.
Em 2012, continuando a cobertura, fui à palestra do artista Hamilton Yokota Titi Freak, que participou do projeto “Pintando o Amanhã”, no qual grafitou contêineres que serviam de casa para os desabrigados de Ishinomaki, também em Miyagi.

Conheci o jornalista Roberto Maxwell, brasileiro radicado no Japão desde 2005. Ele trouxe a São Paulo o seu trabalho “Kome”, série de fotografias e documentários sobre as relações pessoais nas comunidades de Tohoku, que ficaram em exposição em outubro de 2012.
Outra história marcante foi a entrevista (feita por e-mail) com o suíço Thomas Köhler, agente de viagens que andou a costa oeste do Japão no segundo semestre de 2011 com o objetivo de revitalizar o turismo no país. Essa caminhada gerou o documentário Negative: Nothing, que infelizmente não foi exibido no Brasil.
Em São Paulo, nos anos seguintes, entidades nikkeis organizaram eventos memoriais, como exposições de fotos, desenhos de crianças e cerimônias religiosas. Neste ano de 2015, porém, não soube de nenhum.
Hoje, não trabalho mais com aquele site, embora continue muito ligado às atividades da comunidade nipo-japonesa e acompanhando as notícias do Japão. Sei que o país ainda não está totalmente recuperado, que muitas pessoas ainda não puderam retornar às suas casas e que a usina em Fukushima.ainda requer cuidados.
De modo geral, a repercussão dos acontecimentos de 11 de março de 2011 na comunidade nipo-brasileira foi de tristeza e preocupação. Algum tempo depois, por outro lado, reafirmou muitos valores relacionados aos nikkeis no Brasil, como trabalho, perseverança e resistência, e que estavam um pouco esquecidos.
Da mesma maneira que vi pessoalmente como estão hoje as cidades de Hiroshima e Nagasaki, espero poder fazer o mesmo na região de Tohoku em breve.
© 2015 Henrique Minatogawa