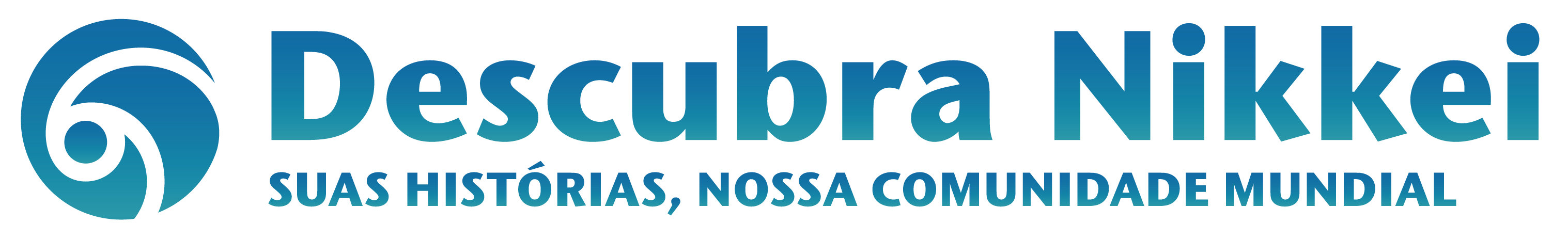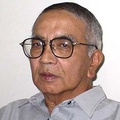Na verdade, trata-se de compreender que 110 anos de imigração japonesa ao Peru não foram em vão. Qual a contribuição de quatro gerações de descendentes de japoneses para o país? Qual é a sua ligação com a realidade mutável da história peruana? Cada geração, os Issei, Nisei, Sansei e Yonsei, têm diferentes sensibilidades, e diferentes sensações de pátria, de pertencimento ou não ao território nacional. E por outro lado, na medida em que se desenvolvem em contextos históricos diversos, somos aceites ou rejeitados pela comunidade de uma forma diferente.
Ou seja, nosso processo de identificação com o Peru, de transculturação e de assimilação cultural, dito em termos acadêmicos, tem variado ao longo do tempo. Daí as diferentes reações das gerações Nikkei. Neste artigo, a partir de dois depoimentos, analiso duas formas de compreensão da realidade social peruana, duas visões de ser nisei, pertencentes a dois poetas, José Watanabe e Nicolás Matayoshi.
Ambos publicaram seus depoimentos na revista Puente (1984) e posteriormente os reproduziram no livro de Guillermo Thorndike, Los Imperios del Sol, 1996. Ambos da geração Niséi e poetas, com longa trajetória na obra intelectual nacional. Pois bem, o depoimento de José Watanabe intitula-se “Laredo: onde estiveram os japoneses” e o de Nicolás Matayoshi “Sou a fatura de uma paisagem”.
II.
Agora, o que Watanabe diz em seu depoimento? Eu reviso isso. Todos os japoneses que se estabeleceram em Laredo (José nasceu naquela cidade do norte em 1946) eram pequenos empresários ou arrendatários de fazendas, como os Otakes ou os Masgos. No entanto, este país começou para eles nas tarefas dos campos de açúcar, onde partilhavam as mesmas condições de exploração dos pequenos locais. Talvez a primeira abordagem tenha sido aprender o uso da coca para resistir à tarefa cotidiana (doze sulcos de cana, de cem metros cada, cortados com facão). Não havia um único japonês em Laredo que não tivesse aprendido a usar cocaína naquela época. Conseguiram até penetrar nos aspectos mágicos da coca.
Segundo Watanabe, como era o dia a dia dos japoneses com os habitantes locais? Depois vieram as ofertas do dia a dia. A relação com as mulheres que confiavam na loja, com a aposentada da pousada, com a criança que chorava no cabeleireiro. Os primeiros galpões que ocuparam ao chegar à fazenda, onde suas mulheres faziam “alfeñique”, ficaram para trás. As pessoas lembravam que as crianças, com medo daqueles rostos desconhecidos, nomeavam o mais ousado para ir comprá-los. Agora o povo dizia: “Os japoneses estão aqui”. E esta “descoberta” teve um peso quase ontológico.
Na versão Watanabe, os japoneses e seus filhos, os nisseis, estavam imersos em uma feliz realização com os produtores de açúcar, a paisagem rural e trabalhavam como chacareros ou pequenos comerciantes. Ali ocorreu mistura racial e cultural, acima dos problemas naturais entre peruanos provincianos e japoneses não menos provincianos. E sua conclusão é coerente. José se pergunta: “Quanto japonês sobrou deles? Quanto sobrou em Tamakawa para que em sua chichería tocasse violão e cantasse o malicioso “coma as batatas e deixe-me a cobaia”? Naqueles que se juntaram às mestiças? Na grande maioria quem se converteu e praticou os rituais do catolicismo? Em todo o caso, não se trata de insinuar que boa parte da sua cultura foi reformulada até se perder, mas sim de confirmar que na vida quotidiana os japoneses não tiveram a validade necessária para conduzir os seus filhos a uma problema de identidade realmente profunda. A nossa nacionalidade básica não foi determinada por eles. Além da raça, nós, nisseis, estamos incluídos nas contradições de uma nacionalidade peruana em formação. Observe que Watanabe refere que em Laredo o japonês não era válido, e que a nacionalidade básica dos Nisei é peruana, racial e culturalmente somos peruanos. Não há nenhum problema profundo de identidade política entre os Nisseis. Não há dúvidas, não há hesitações. No poema “O Vau” de “La Piedra Alada” (Lima, 2005), José Watanabe fala da praia de sua cidade onde existe um vau no rio. Ali, plantados no lodo, estão postes de eucalipto para que os caminhantes possam atravessar o rio sem o risco das águas turvas. Diz o poeta: Cuidado em deixar a vara afundada/ Com gratidão/ na outra margem: vem outro:/ talvez meu pai/ que nas terras amarelas procura melancias silvestres,/ talvez eu/ que volte, tarde e velho,/ parecendo ansioso meu povo que atrás do rio/ ondula ou se borra na lama solar./ Ali,/ segundo o costume, plantaram meu umbigo/ entre a junta de dois adobes/ para que eu tivesse uma pátria./ Deixa o cajado em o lodo.
III.
O caso de Nicolás Matayoshi é diferente. Nascido em Huancayo em 1949, pode dizer em seu depoimento: “Meus pais eram de origem camponesa. Ele era de Okinawa e ela era de Chancay. Nasci nos fundos do negócio que tinham em Huancayo. Um facto que marcou definitivamente a minha vida: faço parte de uma paisagem à qual chego como visitante intrusivo.” Enfatizo o que Matayoshi confessa: chego à paisagem de Huanca e ao seu povo, como um estrangeiro que não pode entrar e muito menos consubstanciar-se. Ele então acrescenta: “Meu amor por ouvir a grama crescer me levou aos campos. Fugi da escola para caminhar pelas ruas e fazendas; Meus olhos se familiarizaram com os rostos e esforços dos camponeses. Sempre fui testemunha de uma cultura que me era estranha e eu próprio era estranho a ela, os costumes orientais afastaram-me do meio ambiente.” Enfatizo que Nicolás é um mero observador porque se sente estranho à cultura Huanca, ao seu povo, à paisagem. Algo o impede. E são suas características e costumes japoneses. Melhor dizendo, tem de enfrentar o ataque da discriminação racial numa grande cidade urbana como Huancayo, mas como qualquer cidade diferencia, seleciona, separa e distancia os estrangeiros. Aqui há uma primeira marginalização.
O testemunho de Matayoshi continua: “Nem camponês, para vibrar com a tinya de Santiago, nem citadino para esperar os Três Reis Magos. “Sou a criação de uma cultura que nunca compreendi totalmente: uma cultura que floresce atrás da crista dos mares.” Essa cultura que floresce atrás dos mares é o Japão. Nicolás não consegue compreendê-lo, porque está longe e é absolutamente complexo, como o são todas as culturas. O japonês que ele vive e afirma é o que mora em casa, o que está além do mar é incompreensível. E à sua maneira conclui: “Às vezes, ansioso por descobrir os elementos daquela cultura que eu via como uma fabulosa caixa de Pandora, levava-me a procurar Mizoguchi, Kenzo Tangue, “Genji no Monogatari” e descobri que, em resumo “Ele era um pequeno burguês, totalmente perdido em uma mistura cultural.” Observe que ao se deparar com os japoneses, pelas dificuldades do idioma, pela distância, por estar morando em uma casa híbrida Huancaíno, Matayoshi confessa seu total desamparo, não é que ela seja alienígena ou estranha, simplesmente que o Japonês em sua casa, em Huancayo ou no Peru, não é totalmente válido, mas parcial. E essa é uma segunda frente de luta.
Recapitulando o caso Matayoshi, ele pode ser explicado em duas frentes. Quando somos peruanos somos discriminados e isso nos faz sentir estrangeiros. Ao nos depararmos com os japoneses, sentimos a distância, a estranheza, que chega até nós aos poucos. Porque a nossa cultura japonesa de lar, família, é defensiva, seja para os nisei, sansei ou yonsei. A cultura japonesa no Japão varia e se adapta às mudanças históricas, ou seja, é recriada e consolidada, purificada. A cultura japonesa de nossos pais ou avós no Peru ficou presa ao passado, não se renova mais, pelo contrário, tende a se perder, a se misturar, a se fundir. Mas existe entre os Nikkei em geral um instinto de conservação cultural e racial, o que é chamado de resistência cultural em antropologia. Somos participantes dessa resistência. Por isso acredito que a nossa melhor forma de ser peruano é respeitando aquela tradição japonesa que nossos pais ou avós trouxeram. Não podemos negar o que aprendemos em casa. Vamos assumir nossa peruana a partir da defensiva cultura japonesa, é a nossa melhor opção.
* Este artigo foi publicado no âmbito do Acordo da Fundação San Marcos para o Desenvolvimento da Ciência e da Cultura da Universidade Nacional Mayor de San Marcos - Museu Nacional Nipo-Americano, Projeto Descubra Nikkei, 2009-2010.
© 2009 Augusto Higa Oshiro